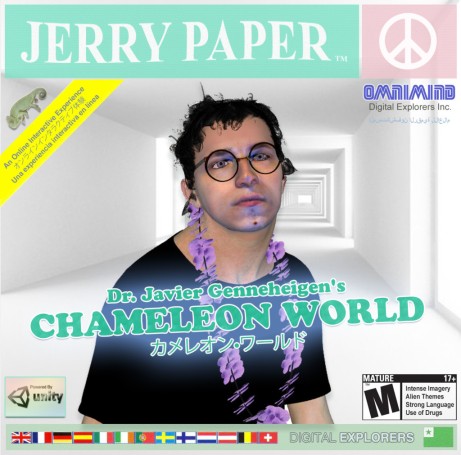Um projecto de rádio que mantenho, ainda que a muito custo e com regularidade parca, obriga-me a acompanhar a música que cada ano nos vai oferecendo. Uma enorme torrente de discos aos quais raramente concedo a atenção devida; infelizmente, o nosso tempo é cada vez mais limitado. Por isso, apresento não um compêndio objectivo e ordenado de discos, cuja relevância se esvanece em comparação com tudo o que faltou ouvir, mas uma lista de trabalhos que me encantaram, embora muito, muito, tenha ficado por ouvir.
Radiohead – A Moon Shaped Pool
 Seria quase herético não mencionar estes britânicos, assumidamente os responsáveis pela minha melomania. Depois de The King of Limbs, este é o segundo álbum que lançam já sendo eu um fã; no âmbito da restante discografia, é o nono. Qualquer que fosse o conteúdo, serial sempre parco quando comparado às altíssimas expectativas que o aguardavam, depois da misteriosa campanha que encetaram, e porque deles sempre se espera o extraordinário. Ouvi-o deitado. “Será disto que eu preciso, um novo disco dos Radiohead?”. Talvez sim. Talvez, até, do rumo que quiseram seguir: Daydreaming, na sua toada minimal e melancólica, define por extensão esta fase da banda, que não se entrega em cruzadas energéticas como os ouvimos em OKC ou HTTT, e dela sobressai um desejo de pausa, de acalmia. Chegámos, com eles, à catarse, como que uma reflexão do que para trás ficou; e contemplamos. É música de cair o pano, banda sonora para o esquecimento, e não a dor, de uma despedida. Fecha-se o ciclo como poucos imaginaram: True Love Waits, a elusiva canção que apenas fora editada no ano de 2001 num disco ao vivo, soa-nos belíssima, e apropriada. Ainda muito ficou por dizer sobre isto; não sei qual será o lugar deste disco daqui a um ano, ou cinco, ou dez; mas é bom tê-lo por cá.
Seria quase herético não mencionar estes britânicos, assumidamente os responsáveis pela minha melomania. Depois de The King of Limbs, este é o segundo álbum que lançam já sendo eu um fã; no âmbito da restante discografia, é o nono. Qualquer que fosse o conteúdo, serial sempre parco quando comparado às altíssimas expectativas que o aguardavam, depois da misteriosa campanha que encetaram, e porque deles sempre se espera o extraordinário. Ouvi-o deitado. “Será disto que eu preciso, um novo disco dos Radiohead?”. Talvez sim. Talvez, até, do rumo que quiseram seguir: Daydreaming, na sua toada minimal e melancólica, define por extensão esta fase da banda, que não se entrega em cruzadas energéticas como os ouvimos em OKC ou HTTT, e dela sobressai um desejo de pausa, de acalmia. Chegámos, com eles, à catarse, como que uma reflexão do que para trás ficou; e contemplamos. É música de cair o pano, banda sonora para o esquecimento, e não a dor, de uma despedida. Fecha-se o ciclo como poucos imaginaram: True Love Waits, a elusiva canção que apenas fora editada no ano de 2001 num disco ao vivo, soa-nos belíssima, e apropriada. Ainda muito ficou por dizer sobre isto; não sei qual será o lugar deste disco daqui a um ano, ou cinco, ou dez; mas é bom tê-lo por cá.
Kero Kero Bonito – Bonito Generation
 Todos os motivos para a inclusão deste grupo no melhor do meu ano foram previamente escrutinados, ou aludidos a, num texto anterior, pelo que recomendo essa leitura. Os Kero Kero mantêm inevitáveis afinidades com o colectivo PC Music, e nota-se os traços comuns no à-vontade com que se movimentam na pop e nas suas manifestas contradições. Em suma, tudo neles é delicioso: Bonito Generation é o disco que abrilhanta o nosso dia; a música pop que, com o auxílio de um trampolim imaginário, suspende o nosso imediato e nos põe, qual realidade aumentada, num outro sítio onde nada mais importa. Parece mentira, mas eles são um caso incrivelmente sério, e vale a pena vermos o mundo pelos seus olhos; no sentido contrário, fazem o convite através dos nossos ouvidos. Ao aceitá-lo, transformei um par de semanas deste ano nas mais coloridas de que tenho memória.
Todos os motivos para a inclusão deste grupo no melhor do meu ano foram previamente escrutinados, ou aludidos a, num texto anterior, pelo que recomendo essa leitura. Os Kero Kero mantêm inevitáveis afinidades com o colectivo PC Music, e nota-se os traços comuns no à-vontade com que se movimentam na pop e nas suas manifestas contradições. Em suma, tudo neles é delicioso: Bonito Generation é o disco que abrilhanta o nosso dia; a música pop que, com o auxílio de um trampolim imaginário, suspende o nosso imediato e nos põe, qual realidade aumentada, num outro sítio onde nada mais importa. Parece mentira, mas eles são um caso incrivelmente sério, e vale a pena vermos o mundo pelos seus olhos; no sentido contrário, fazem o convite através dos nossos ouvidos. Ao aceitá-lo, transformei um par de semanas deste ano nas mais coloridas de que tenho memória.
Blank Banshee – MEGA
 A sua identidade é uma incógnita, mas o nome Blank Banshee remete automaticamente para a nebulosa linhagem do vaporwave, um epíteto musicalmente impreciso e cujas ramificações se tornarão mais distintas apenas com o correr do tempo – ainda assim, este produtor sempre actuou na periferia da estética facilista à qual surge frequentemente associado. Em MEGA, soltam-se-lhe as estribeiras e a máquina ganha vida, num ímpeto ora furioso e descontrolado, ora apaziguado em sequências melosas, ainda que esteticamente desconcertantes. É tudo sobretudo uma jornada electrónica, com ecos de trip-hop na sua estrutura musical, em permanente balanço no abismo que atiraria este trabalho para o abstracto; é neste equilibrismo que se evidenciam as afinidades que mantém ao supramencionado vaporwave.
A sua identidade é uma incógnita, mas o nome Blank Banshee remete automaticamente para a nebulosa linhagem do vaporwave, um epíteto musicalmente impreciso e cujas ramificações se tornarão mais distintas apenas com o correr do tempo – ainda assim, este produtor sempre actuou na periferia da estética facilista à qual surge frequentemente associado. Em MEGA, soltam-se-lhe as estribeiras e a máquina ganha vida, num ímpeto ora furioso e descontrolado, ora apaziguado em sequências melosas, ainda que esteticamente desconcertantes. É tudo sobretudo uma jornada electrónica, com ecos de trip-hop na sua estrutura musical, em permanente balanço no abismo que atiraria este trabalho para o abstracto; é neste equilibrismo que se evidenciam as afinidades que mantém ao supramencionado vaporwave.
Frank Ocean – Blonde
 Passaram cinco anos desde Channel Orange, o disco que cimentou, em definitivo, o seu nome como um dos valores a seguir na música moderna – e, com ele, a revelação que desde então é indissociável da sua persona artística, em forma de carta para todo o seu auditório: o mundo inteiro. O silêncio seria finalmente quebrado com o lançamento (em streaming!) de Blonde, apenas um dia depois do vídeo-disco Endless, com uma edição física exclusiva que veio acompanhada de uma revista – tudo criado pelo músico. Por tudo isto, Frank Ocean é um caso de estudo, um artista que, talvez apenas rivalizado por Kanye West e bem mais unânime que este, tem o mundo aos seus pés. Blonde reflecte isso mesmo. É um trabalho esquivo, estranho e desconfortável: não o esperávamos tão parco, despido do encantamento instrumental de Channel Orange, tão sozinho sob tão enorme holofote. Ele canta, susurra, e dobra rimas, e mais não fez porque não quis: este é o seu domínio. Muito mais se poderia dizer sobre Ocean. Ouçamos a sua música, e faça-se silêncio: tanto o quis, nestes últimos anos, já o teve, e sob ele já partiu outra vez.
Passaram cinco anos desde Channel Orange, o disco que cimentou, em definitivo, o seu nome como um dos valores a seguir na música moderna – e, com ele, a revelação que desde então é indissociável da sua persona artística, em forma de carta para todo o seu auditório: o mundo inteiro. O silêncio seria finalmente quebrado com o lançamento (em streaming!) de Blonde, apenas um dia depois do vídeo-disco Endless, com uma edição física exclusiva que veio acompanhada de uma revista – tudo criado pelo músico. Por tudo isto, Frank Ocean é um caso de estudo, um artista que, talvez apenas rivalizado por Kanye West e bem mais unânime que este, tem o mundo aos seus pés. Blonde reflecte isso mesmo. É um trabalho esquivo, estranho e desconfortável: não o esperávamos tão parco, despido do encantamento instrumental de Channel Orange, tão sozinho sob tão enorme holofote. Ele canta, susurra, e dobra rimas, e mais não fez porque não quis: este é o seu domínio. Muito mais se poderia dizer sobre Ocean. Ouçamos a sua música, e faça-se silêncio: tanto o quis, nestes últimos anos, já o teve, e sob ele já partiu outra vez.
Chuck Person – Chuck Person’s Eccojams Vol. 1 (2016 Remaster)
 Esta é uma pequena batota: o trabalho original data de 2010, mas esta é uma versão remasterizada lançada digitalmente no Bandcamp do autor. Ademais, é perfeito pretexto para lembrar as bases do vaporwave, que muito devem a estes Eccojams, obra de Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), que actuou sob o pseudónimo Chuck Person. O termo – como já mencionei – alberga uma série de correntes e tropes; aqui, aponta-se à reciclagem de música pop e à sua reapropriação (escangalham-se Fleetwood Mac, os Toto, e Michael Jackson, entre outros), e quando se ultrapassa o nível irónico e de meta-referência, chega-se a uma outra construção, erigida no desconcertante marulhar da música que já não o é, e deixamo-nos ficar. A distinção entre exercício formal e prazerosa experiência reside na vontade de quem ouve; é também devido a essa simultânea dicotomia que o celebro neste top. (PS: em 2011, salvo erro, o músico actuou pertíssimo de mim – não me perdoo a falta de comparência nem a gorada oportunidade de trocarmos palavras).
Esta é uma pequena batota: o trabalho original data de 2010, mas esta é uma versão remasterizada lançada digitalmente no Bandcamp do autor. Ademais, é perfeito pretexto para lembrar as bases do vaporwave, que muito devem a estes Eccojams, obra de Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), que actuou sob o pseudónimo Chuck Person. O termo – como já mencionei – alberga uma série de correntes e tropes; aqui, aponta-se à reciclagem de música pop e à sua reapropriação (escangalham-se Fleetwood Mac, os Toto, e Michael Jackson, entre outros), e quando se ultrapassa o nível irónico e de meta-referência, chega-se a uma outra construção, erigida no desconcertante marulhar da música que já não o é, e deixamo-nos ficar. A distinção entre exercício formal e prazerosa experiência reside na vontade de quem ouve; é também devido a essa simultânea dicotomia que o celebro neste top. (PS: em 2011, salvo erro, o músico actuou pertíssimo de mim – não me perdoo a falta de comparência nem a gorada oportunidade de trocarmos palavras).
Kanye West – The Life Of Pablo
 As minhas impressões sobre Kanye West poderiam ser as mesmas usadas em Frank Ocean, trocados apenas os “silêncio” por “escarcéu”, “sozinho” cedendo a “por todos rodeado”: são dois artistas extremamente pouco ortodoxos e que fizeram de 2016 um ano bandeira, mas que parecem viver em estados opostos de espírito. Confesso que The Life of Pablo não me convenceu verdadeiramente, transparecendo uma execução aparentemente degraus aquém da ideia original: desde o seu caótico lançamento, foi várias vezes actualizado (com alterações na lista de músicas e nelas próprias – caso inédito?), e surge como uma enorme manta de retalhos. Obviamente, poder-se-á considerar que isto é, também, parte do acto: um disco em constante mutação, obra intangível, reflexo do turbilhão criativo e emocional de quem o pariu. Talvez seja. Talvez não. Mas Kanye já nos pregou a lição: ele não quer saber, e aponta a um limite que está bem além do céu.
As minhas impressões sobre Kanye West poderiam ser as mesmas usadas em Frank Ocean, trocados apenas os “silêncio” por “escarcéu”, “sozinho” cedendo a “por todos rodeado”: são dois artistas extremamente pouco ortodoxos e que fizeram de 2016 um ano bandeira, mas que parecem viver em estados opostos de espírito. Confesso que The Life of Pablo não me convenceu verdadeiramente, transparecendo uma execução aparentemente degraus aquém da ideia original: desde o seu caótico lançamento, foi várias vezes actualizado (com alterações na lista de músicas e nelas próprias – caso inédito?), e surge como uma enorme manta de retalhos. Obviamente, poder-se-á considerar que isto é, também, parte do acto: um disco em constante mutação, obra intangível, reflexo do turbilhão criativo e emocional de quem o pariu. Talvez seja. Talvez não. Mas Kanye já nos pregou a lição: ele não quer saber, e aponta a um limite que está bem além do céu.
Além destes nomes, que resumem brevemente as maiores fixações lançadas neste ano que agora terminou, quero destacar ainda mais alguns trabalhos: Bruno Pernadas, com o seu lançamento duplo que se constrói, com muita liberdade e irreverência, no mundo da música pop (mas não comercial, o que demonstra a enorme diferença entre os dois termos) e do jazz; Alex Zhang Hungtai, músico do extinto projecto Dirty Beaches e que se radicou há uns anos em Portugal, é autor de Knave of Heart, um belíssimo disco de pequenos ensaios ao piano, parcos, minimais, e tingidos por alguns field recordings que servem quase uma função narrativa, é um disco que parece dialogar com Ambient 1: Music for Airports (logo, até, na sua primeira faixa, que alude a uma sala de espera), carregando na herança musical uma emoção que não está presente no disco de Brian Eno; Dean Blunt voltou à carga com dois trabalhos no projecto Babyfather, a continuar a toada misteriosa e desconcertante que marcou a sua carreira até agora; e, por último, Paul Jebanasam e Continuum, um registo experimental e abstracto, absolutamente obrigatório, e que foi indubitavelmente o momento mais alto do SEMIBREVE deste ano.
Para terminar, houve nomes aos quais, por questões de disponibilidade ou esquecimento, não dediquei muita atenção, e por isso omito qualquer opinião (por vezes precipitada) que possa ter sobre estes.

 Seria quase herético não mencionar estes britânicos, assumidamente os responsáveis pela minha melomania. Depois de The King of Limbs, este é o segundo álbum que lançam já sendo eu um fã; no âmbito da restante discografia, é o nono. Qualquer que fosse o conteúdo, serial sempre parco quando comparado às altíssimas expectativas que o aguardavam, depois da misteriosa campanha que encetaram, e porque deles sempre se espera o extraordinário. Ouvi-o deitado. “Será disto que eu preciso, um novo disco dos Radiohead?”. Talvez sim. Talvez, até, do rumo que quiseram seguir: Daydreaming, na sua toada minimal e melancólica, define por extensão esta fase da banda, que não se entrega em cruzadas energéticas como os ouvimos em OKC ou HTTT, e dela sobressai um desejo de pausa, de acalmia. Chegámos, com eles, à catarse, como que uma reflexão do que para trás ficou; e contemplamos. É música de cair o pano, banda sonora para o esquecimento, e não a dor, de uma despedida. Fecha-se o ciclo como poucos imaginaram: True Love Waits, a elusiva canção que apenas fora editada no ano de 2001 num disco ao vivo, soa-nos belíssima, e apropriada. Ainda muito ficou por dizer sobre isto; não sei qual será o lugar deste disco daqui a um ano, ou cinco, ou dez; mas é bom tê-lo por cá.
Seria quase herético não mencionar estes britânicos, assumidamente os responsáveis pela minha melomania. Depois de The King of Limbs, este é o segundo álbum que lançam já sendo eu um fã; no âmbito da restante discografia, é o nono. Qualquer que fosse o conteúdo, serial sempre parco quando comparado às altíssimas expectativas que o aguardavam, depois da misteriosa campanha que encetaram, e porque deles sempre se espera o extraordinário. Ouvi-o deitado. “Será disto que eu preciso, um novo disco dos Radiohead?”. Talvez sim. Talvez, até, do rumo que quiseram seguir: Daydreaming, na sua toada minimal e melancólica, define por extensão esta fase da banda, que não se entrega em cruzadas energéticas como os ouvimos em OKC ou HTTT, e dela sobressai um desejo de pausa, de acalmia. Chegámos, com eles, à catarse, como que uma reflexão do que para trás ficou; e contemplamos. É música de cair o pano, banda sonora para o esquecimento, e não a dor, de uma despedida. Fecha-se o ciclo como poucos imaginaram: True Love Waits, a elusiva canção que apenas fora editada no ano de 2001 num disco ao vivo, soa-nos belíssima, e apropriada. Ainda muito ficou por dizer sobre isto; não sei qual será o lugar deste disco daqui a um ano, ou cinco, ou dez; mas é bom tê-lo por cá. Todos os motivos para a inclusão deste grupo no melhor do meu ano foram previamente escrutinados, ou aludidos a, num texto anterior, pelo que recomendo essa leitura. Os Kero Kero mantêm inevitáveis afinidades com o colectivo PC Music, e nota-se os traços comuns no à-vontade com que se movimentam na pop e nas suas manifestas contradições. Em suma, tudo neles é delicioso: Bonito Generation é o disco que abrilhanta o nosso dia; a música pop que, com o auxílio de um trampolim imaginário, suspende o nosso imediato e nos põe, qual realidade aumentada, num outro sítio onde nada mais importa. Parece mentira, mas eles são um caso incrivelmente sério, e vale a pena vermos o mundo pelos seus olhos; no sentido contrário, fazem o convite através dos nossos ouvidos. Ao aceitá-lo, transformei um par de semanas deste ano nas mais coloridas de que tenho memória.
Todos os motivos para a inclusão deste grupo no melhor do meu ano foram previamente escrutinados, ou aludidos a, num texto anterior, pelo que recomendo essa leitura. Os Kero Kero mantêm inevitáveis afinidades com o colectivo PC Music, e nota-se os traços comuns no à-vontade com que se movimentam na pop e nas suas manifestas contradições. Em suma, tudo neles é delicioso: Bonito Generation é o disco que abrilhanta o nosso dia; a música pop que, com o auxílio de um trampolim imaginário, suspende o nosso imediato e nos põe, qual realidade aumentada, num outro sítio onde nada mais importa. Parece mentira, mas eles são um caso incrivelmente sério, e vale a pena vermos o mundo pelos seus olhos; no sentido contrário, fazem o convite através dos nossos ouvidos. Ao aceitá-lo, transformei um par de semanas deste ano nas mais coloridas de que tenho memória. A sua identidade é uma incógnita, mas o nome Blank Banshee remete automaticamente para a nebulosa linhagem do vaporwave, um epíteto musicalmente impreciso e cujas ramificações se tornarão mais distintas apenas com o correr do tempo – ainda assim, este produtor sempre actuou na periferia da estética facilista à qual surge frequentemente associado. Em MEGA, soltam-se-lhe as estribeiras e a máquina ganha vida, num ímpeto ora furioso e descontrolado, ora apaziguado em sequências melosas, ainda que esteticamente desconcertantes. É tudo sobretudo uma jornada electrónica, com ecos de trip-hop na sua estrutura musical, em permanente balanço no abismo que atiraria este trabalho para o abstracto; é neste equilibrismo que se evidenciam as afinidades que mantém ao supramencionado vaporwave.
A sua identidade é uma incógnita, mas o nome Blank Banshee remete automaticamente para a nebulosa linhagem do vaporwave, um epíteto musicalmente impreciso e cujas ramificações se tornarão mais distintas apenas com o correr do tempo – ainda assim, este produtor sempre actuou na periferia da estética facilista à qual surge frequentemente associado. Em MEGA, soltam-se-lhe as estribeiras e a máquina ganha vida, num ímpeto ora furioso e descontrolado, ora apaziguado em sequências melosas, ainda que esteticamente desconcertantes. É tudo sobretudo uma jornada electrónica, com ecos de trip-hop na sua estrutura musical, em permanente balanço no abismo que atiraria este trabalho para o abstracto; é neste equilibrismo que se evidenciam as afinidades que mantém ao supramencionado vaporwave. Passaram cinco anos desde Channel Orange, o disco que cimentou, em definitivo, o seu nome como um dos valores a seguir na música moderna – e, com ele, a revelação que desde então é indissociável da sua persona artística, em forma de carta para todo o seu auditório: o mundo inteiro. O silêncio seria finalmente quebrado com o lançamento (em streaming!) de Blonde, apenas um dia depois do vídeo-disco Endless, com uma edição física exclusiva que veio acompanhada de uma revista – tudo criado pelo músico. Por tudo isto, Frank Ocean é um caso de estudo, um artista que, talvez apenas rivalizado por Kanye West e bem mais unânime que este, tem o mundo aos seus pés. Blonde reflecte isso mesmo. É um trabalho esquivo, estranho e desconfortável: não o esperávamos tão parco, despido do encantamento instrumental de Channel Orange, tão sozinho sob tão enorme holofote. Ele canta, susurra, e dobra rimas, e mais não fez porque não quis: este é o seu domínio. Muito mais se poderia dizer sobre Ocean. Ouçamos a sua música, e faça-se silêncio: tanto o quis, nestes últimos anos, já o teve, e sob ele já partiu outra vez.
Passaram cinco anos desde Channel Orange, o disco que cimentou, em definitivo, o seu nome como um dos valores a seguir na música moderna – e, com ele, a revelação que desde então é indissociável da sua persona artística, em forma de carta para todo o seu auditório: o mundo inteiro. O silêncio seria finalmente quebrado com o lançamento (em streaming!) de Blonde, apenas um dia depois do vídeo-disco Endless, com uma edição física exclusiva que veio acompanhada de uma revista – tudo criado pelo músico. Por tudo isto, Frank Ocean é um caso de estudo, um artista que, talvez apenas rivalizado por Kanye West e bem mais unânime que este, tem o mundo aos seus pés. Blonde reflecte isso mesmo. É um trabalho esquivo, estranho e desconfortável: não o esperávamos tão parco, despido do encantamento instrumental de Channel Orange, tão sozinho sob tão enorme holofote. Ele canta, susurra, e dobra rimas, e mais não fez porque não quis: este é o seu domínio. Muito mais se poderia dizer sobre Ocean. Ouçamos a sua música, e faça-se silêncio: tanto o quis, nestes últimos anos, já o teve, e sob ele já partiu outra vez. Esta é uma pequena batota: o trabalho original data de 2010, mas esta é uma versão remasterizada lançada digitalmente no Bandcamp do autor. Ademais, é perfeito pretexto para lembrar as bases do vaporwave, que muito devem a estes Eccojams, obra de Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), que actuou sob o pseudónimo Chuck Person. O termo – como já mencionei – alberga uma série de correntes e tropes; aqui, aponta-se à reciclagem de música pop e à sua reapropriação (escangalham-se Fleetwood Mac, os Toto, e Michael Jackson, entre outros), e quando se ultrapassa o nível irónico e de meta-referência, chega-se a uma outra construção, erigida no desconcertante marulhar da música que já não o é, e deixamo-nos ficar. A distinção entre exercício formal e prazerosa experiência reside na vontade de quem ouve; é também devido a essa simultânea dicotomia que o celebro neste top. (PS: em 2011, salvo erro, o músico actuou pertíssimo de mim – não me perdoo a falta de comparência nem a gorada oportunidade de trocarmos palavras).
Esta é uma pequena batota: o trabalho original data de 2010, mas esta é uma versão remasterizada lançada digitalmente no Bandcamp do autor. Ademais, é perfeito pretexto para lembrar as bases do vaporwave, que muito devem a estes Eccojams, obra de Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), que actuou sob o pseudónimo Chuck Person. O termo – como já mencionei – alberga uma série de correntes e tropes; aqui, aponta-se à reciclagem de música pop e à sua reapropriação (escangalham-se Fleetwood Mac, os Toto, e Michael Jackson, entre outros), e quando se ultrapassa o nível irónico e de meta-referência, chega-se a uma outra construção, erigida no desconcertante marulhar da música que já não o é, e deixamo-nos ficar. A distinção entre exercício formal e prazerosa experiência reside na vontade de quem ouve; é também devido a essa simultânea dicotomia que o celebro neste top. (PS: em 2011, salvo erro, o músico actuou pertíssimo de mim – não me perdoo a falta de comparência nem a gorada oportunidade de trocarmos palavras). As minhas impressões sobre Kanye West poderiam ser as mesmas usadas em Frank Ocean, trocados apenas os “silêncio” por “escarcéu”, “sozinho” cedendo a “por todos rodeado”: são dois artistas extremamente pouco ortodoxos e que fizeram de 2016 um ano bandeira, mas que parecem viver em estados opostos de espírito. Confesso que The Life of Pablo não me convenceu verdadeiramente, transparecendo uma execução aparentemente degraus aquém da ideia original: desde o seu caótico lançamento, foi várias vezes actualizado (com alterações na lista de músicas e nelas próprias – caso inédito?), e surge como uma enorme manta de retalhos. Obviamente, poder-se-á considerar que isto é, também, parte do acto: um disco em constante mutação, obra intangível, reflexo do turbilhão criativo e emocional de quem o pariu. Talvez seja. Talvez não. Mas Kanye já nos pregou a lição: ele não quer saber, e aponta a um limite que está bem além do céu.
As minhas impressões sobre Kanye West poderiam ser as mesmas usadas em Frank Ocean, trocados apenas os “silêncio” por “escarcéu”, “sozinho” cedendo a “por todos rodeado”: são dois artistas extremamente pouco ortodoxos e que fizeram de 2016 um ano bandeira, mas que parecem viver em estados opostos de espírito. Confesso que The Life of Pablo não me convenceu verdadeiramente, transparecendo uma execução aparentemente degraus aquém da ideia original: desde o seu caótico lançamento, foi várias vezes actualizado (com alterações na lista de músicas e nelas próprias – caso inédito?), e surge como uma enorme manta de retalhos. Obviamente, poder-se-á considerar que isto é, também, parte do acto: um disco em constante mutação, obra intangível, reflexo do turbilhão criativo e emocional de quem o pariu. Talvez seja. Talvez não. Mas Kanye já nos pregou a lição: ele não quer saber, e aponta a um limite que está bem além do céu.