Aqui me têm de novo, finalmente liberto da azáfama dos últimos tempos, repartidos e revezados entre estudo, afazeres académicos, e infrutífero ócio (minto: houve também alguma leitura, que será explicitada num futuro post). Deste a última vez que escrevi sobre cinema, remontando a finais de Janeiro, tive um muito parco mês de Fevereiro: vi apenas 7 filmes, sem grande critério de selecção. Volvido já bem mais que um mês, vou tentar deixar algumas impressões.
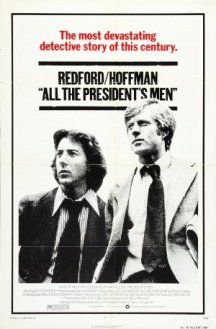 Havia algum tempo que o tinha referenciado, e uma qualquer referência – talvez a propósito de Spotlight, galardoado nos Oscars – me levou de novo a considerá-lo. All The President’s Men (1976), uma referência do cinema americano, com Dustin Hoffman e Robert Redford à cabeça, discrimina todo o processo jornalístico que desencadeou num dos escândalos políticos mais mediáticos das terras do Uncle Sam. Infelizmente, é necessário, ao longo do filme, que tenhamos esse contexto histórico/político bem presente; doutra forma, a história é apenas uma vaga impressão que cruza nomes, datas, e lugares, relevantes para a história americana. Por isso, é uma relutante recomendação. É um óptimo filme, mas é necessário, para quem não viveu aquelas décadas, ter a página da Wikipedia sobre o Watergate à mão.
Havia algum tempo que o tinha referenciado, e uma qualquer referência – talvez a propósito de Spotlight, galardoado nos Oscars – me levou de novo a considerá-lo. All The President’s Men (1976), uma referência do cinema americano, com Dustin Hoffman e Robert Redford à cabeça, discrimina todo o processo jornalístico que desencadeou num dos escândalos políticos mais mediáticos das terras do Uncle Sam. Infelizmente, é necessário, ao longo do filme, que tenhamos esse contexto histórico/político bem presente; doutra forma, a história é apenas uma vaga impressão que cruza nomes, datas, e lugares, relevantes para a história americana. Por isso, é uma relutante recomendação. É um óptimo filme, mas é necessário, para quem não viveu aquelas décadas, ter a página da Wikipedia sobre o Watergate à mão.
Depois, L’Argent (1983) de Robert Bresson. O segundo filme que vejo do realizador francês, está ainda centrado no estilo muito próprio que lhe vi em Pickpocket (1959) – não querendo com isto dizer que seja repetitivo ou formulaico. A narrativa parte de uma nota forjada que vai de mão em mão, enquanto acompanha as consequências da ganância e da imoralidade nas pessoas que com ela se cruzam. Uma espécie de conto moral, que não o é realmente, num estilo de edição pouco ortodoxa, com resquícios de uma estratégia mais evidente em Pickpocket: cenas justapostas respeitando a linearidade, mas dadas à omissão temporal de várias acções intermédias. Entre os dois, ambos interessantes, Pickpocket é talvez a escolha mais acertada para um primeiro filme de Bresson.
Bresson. O segundo filme que vejo do realizador francês, está ainda centrado no estilo muito próprio que lhe vi em Pickpocket (1959) – não querendo com isto dizer que seja repetitivo ou formulaico. A narrativa parte de uma nota forjada que vai de mão em mão, enquanto acompanha as consequências da ganância e da imoralidade nas pessoas que com ela se cruzam. Uma espécie de conto moral, que não o é realmente, num estilo de edição pouco ortodoxa, com resquícios de uma estratégia mais evidente em Pickpocket: cenas justapostas respeitando a linearidade, mas dadas à omissão temporal de várias acções intermédias. Entre os dois, ambos interessantes, Pickpocket é talvez a escolha mais acertada para um primeiro filme de Bresson.
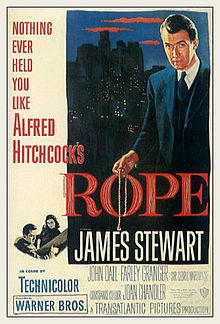 Ainda no cinema de outros tempos, dediquei-me a mais dois filmes de Albert Hitchcock. Primeiro, Rope (1948) dedica-se à exploração de duas ideias: uma narrativa, e uma técnica, tendo o tempo privilegiado dado maior importância à segunda. O filme desenrola-se numa única sala, onde dois colegas universitários discutem um assassínio que levaram a cabo. O cadáver jaz dentro duma arca, nessa mesma sala, que dará lugar a uma festa com vários familiares e amigos do morto. A componente narrativa, quase inexistente, explora muito o diálogo (filosófico por vezes, raramente erudito) e uma espécie de ensemble casting, com muita gente a partilhar as cenas num dado momento; por outro lado, o factor que perpetua Rope como um interessante feito técnico prende-se com a opção de o filmar como se fosse um take ininterrupto, tal como Birdman (2014). Desta forma, Hitchcock julgava manter a tensão entre todas as cenas, e fê-lo usando transições inteligentes, contornando as limitações técnicas da altura (os rolos de filme tinham, no máximo, cerca de 10 minutos de filmagem). Salva-se o gesto técnico, e os belíssimos minutos finais – vale a pena ver.
Ainda no cinema de outros tempos, dediquei-me a mais dois filmes de Albert Hitchcock. Primeiro, Rope (1948) dedica-se à exploração de duas ideias: uma narrativa, e uma técnica, tendo o tempo privilegiado dado maior importância à segunda. O filme desenrola-se numa única sala, onde dois colegas universitários discutem um assassínio que levaram a cabo. O cadáver jaz dentro duma arca, nessa mesma sala, que dará lugar a uma festa com vários familiares e amigos do morto. A componente narrativa, quase inexistente, explora muito o diálogo (filosófico por vezes, raramente erudito) e uma espécie de ensemble casting, com muita gente a partilhar as cenas num dado momento; por outro lado, o factor que perpetua Rope como um interessante feito técnico prende-se com a opção de o filmar como se fosse um take ininterrupto, tal como Birdman (2014). Desta forma, Hitchcock julgava manter a tensão entre todas as cenas, e fê-lo usando transições inteligentes, contornando as limitações técnicas da altura (os rolos de filme tinham, no máximo, cerca de 10 minutos de filmagem). Salva-se o gesto técnico, e os belíssimos minutos finais – vale a pena ver.
 Além de Rope, vi também um outro clássico, Dial M For Murder, este de 1954. Em comum, os dois filmes partilham a ideia de uma história passada numa divisão, e, mais especificamente, uma espécie de fetichismo requintado pelo acto de assassínio, marca que, afinal, tinge grande parte do oeuvre do realizador britânico, e que é primorosamente explorada neste último filme. Aqui, como mais tarde, em Psycho, Hitchcock prepara uma narrativa onde um dos twists não é, como se espera, a conclusão da história, mas sim o seu próprio início – a aparentemente pacata e convencional cena marital entre James Stewart e Grace Kelly dá lugar, em pouquíssimos minutos, a um rocambolesco e diabólico plano de assassínio. Perversões do status quo a que Hitchcock nos foi habituando ao longo da carreira. Depois, o filme desagua na fantasia de muitos escritores de policiais, duma forma inteligente e bem conseguida. Sem dúvida, um dos pontos altos da carreira do britânico – ou, melhor dizendo, um dos vários pontos altos.
Além de Rope, vi também um outro clássico, Dial M For Murder, este de 1954. Em comum, os dois filmes partilham a ideia de uma história passada numa divisão, e, mais especificamente, uma espécie de fetichismo requintado pelo acto de assassínio, marca que, afinal, tinge grande parte do oeuvre do realizador britânico, e que é primorosamente explorada neste último filme. Aqui, como mais tarde, em Psycho, Hitchcock prepara uma narrativa onde um dos twists não é, como se espera, a conclusão da história, mas sim o seu próprio início – a aparentemente pacata e convencional cena marital entre James Stewart e Grace Kelly dá lugar, em pouquíssimos minutos, a um rocambolesco e diabólico plano de assassínio. Perversões do status quo a que Hitchcock nos foi habituando ao longo da carreira. Depois, o filme desagua na fantasia de muitos escritores de policiais, duma forma inteligente e bem conseguida. Sem dúvida, um dos pontos altos da carreira do britânico – ou, melhor dizendo, um dos vários pontos altos.
 Cronologicamente, temos ainda Hot Fuzz (2007), uma paródia de acção com selo de produção britânica. Há alguns bons momentos, e é um filme divertido se não julgarmos demasiado a sua história apatetada e muito silly. Aliás, vi-o apenas por recomendação de um excelente canal de video essays, Every Frame a Painting, obrigatório para quem aprecia análises visuais de filmes; impossível esquecer, também, o novíssimo de Tarantino, Hateful Eight (2015).
Cronologicamente, temos ainda Hot Fuzz (2007), uma paródia de acção com selo de produção britânica. Há alguns bons momentos, e é um filme divertido se não julgarmos demasiado a sua história apatetada e muito silly. Aliás, vi-o apenas por recomendação de um excelente canal de video essays, Every Frame a Painting, obrigatório para quem aprecia análises visuais de filmes; impossível esquecer, também, o novíssimo de Tarantino, Hateful Eight (2015).  O que dizer? Dentro do que têm sido as trademarks do seu cinema, o americano teceu uma narrativa hermética, onde explora muito o diálogo – como tem sido, ao longo da carreira, um dos seus pontos fortes – e a caricatura de uma América que, embora se julgue perdida, tem as raízes bem soltas e à vista na sociedade de hoje. Peca, talvez, na distribuição pouco equilibrada do seu “andamento”: começa lento, pianíssimo, apanha trote no seu meio, e culmina num fantástico terceiro acto, um clímax narrativo e visual – autêntico deleite cinematográfico, apetece dizer. Se será, ou não, dos seus filmes mais bem cotados, apenas o tempo saberá julgar; por agora, não é uma pergunta muito relevante.
O que dizer? Dentro do que têm sido as trademarks do seu cinema, o americano teceu uma narrativa hermética, onde explora muito o diálogo – como tem sido, ao longo da carreira, um dos seus pontos fortes – e a caricatura de uma América que, embora se julgue perdida, tem as raízes bem soltas e à vista na sociedade de hoje. Peca, talvez, na distribuição pouco equilibrada do seu “andamento”: começa lento, pianíssimo, apanha trote no seu meio, e culmina num fantástico terceiro acto, um clímax narrativo e visual – autêntico deleite cinematográfico, apetece dizer. Se será, ou não, dos seus filmes mais bem cotados, apenas o tempo saberá julgar; por agora, não é uma pergunta muito relevante.
 Para terminar, o final do mês reservou-me uma bela surpresa no Theatro Circo, em Braga. Andrei Rublev (1966) é equiparável, em dimensão, àqueles livros divididos em tomos que lemos num trago, e os queremos de novo mal o acabamos; no meu caso, devido ao muito que fica por apreender nas entrelinhas. A acção passa-se no século XV, mergulhada numa história relativa às características e idiossincrasias da Rússia da época. Os diálogos – e permitam-me uma breve nota de apreço à tradução, que me parece ter sido extremamente competente, além de que sem a qual muito do encanto do filme estava irremediavelmente perdido – dizia eu, os diálogos, ao longo de todo o filme, são extremamente ricos em ideias relativas à religião, ao propósito humano, à arte, à labuta, etc. e ao mais complementados pela própria mise en scène, à qual o dedo mágico de Tarkovsky deu especial atenção, com imagens recorrentes ao longo do filme – basta pensarmos nos cavalos, um animal elegante, poderoso, muito acarinhado pelo russo nos seus filmes, que aqui aparecem amiúde, com uma forte carga simbólica – e outros artifícios visuais e narrativos, os quais, na minha limitada bagagem cinematográfica, não consigo ainda apreender. No entanto, retive do filme muita da parte final, com o poderoso último acto, comovente, entre o jovem dos sinos e Andrei Rublev, que nos acompanha bem para lá do termo do filme. Fica devida uma segunda sessão, no futuro, depois até de ter estudado as várias referências históricas às quais Tarkovsky remete. Na verdade, e agora divago, do pouco que conheço da cultura russa, parece-me que algumas obras dos seus artistas remetem automaticamente para uma noção histórica muito enraizada, como se fosse realmente uma necessidade de olharem para si próprios, e julgar esse passado – Andrei Rublev é certamente uma dessas obras, como também o é, certamente, O Mestre e a Margarida, icónico livro de Mikhail Bulgakov, que muito se alimenta, mais do que o normal, do contexto temporal em que está inserido.
Para terminar, o final do mês reservou-me uma bela surpresa no Theatro Circo, em Braga. Andrei Rublev (1966) é equiparável, em dimensão, àqueles livros divididos em tomos que lemos num trago, e os queremos de novo mal o acabamos; no meu caso, devido ao muito que fica por apreender nas entrelinhas. A acção passa-se no século XV, mergulhada numa história relativa às características e idiossincrasias da Rússia da época. Os diálogos – e permitam-me uma breve nota de apreço à tradução, que me parece ter sido extremamente competente, além de que sem a qual muito do encanto do filme estava irremediavelmente perdido – dizia eu, os diálogos, ao longo de todo o filme, são extremamente ricos em ideias relativas à religião, ao propósito humano, à arte, à labuta, etc. e ao mais complementados pela própria mise en scène, à qual o dedo mágico de Tarkovsky deu especial atenção, com imagens recorrentes ao longo do filme – basta pensarmos nos cavalos, um animal elegante, poderoso, muito acarinhado pelo russo nos seus filmes, que aqui aparecem amiúde, com uma forte carga simbólica – e outros artifícios visuais e narrativos, os quais, na minha limitada bagagem cinematográfica, não consigo ainda apreender. No entanto, retive do filme muita da parte final, com o poderoso último acto, comovente, entre o jovem dos sinos e Andrei Rublev, que nos acompanha bem para lá do termo do filme. Fica devida uma segunda sessão, no futuro, depois até de ter estudado as várias referências históricas às quais Tarkovsky remete. Na verdade, e agora divago, do pouco que conheço da cultura russa, parece-me que algumas obras dos seus artistas remetem automaticamente para uma noção histórica muito enraizada, como se fosse realmente uma necessidade de olharem para si próprios, e julgar esse passado – Andrei Rublev é certamente uma dessas obras, como também o é, certamente, O Mestre e a Margarida, icónico livro de Mikhail Bulgakov, que muito se alimenta, mais do que o normal, do contexto temporal em que está inserido.
Perdoem-me a longa dissertação! Volto, em breve, e desta vez com devaneios literários.


 Arena, Cerro Negro e Rafa (João Salaviza; 2009, 2012 e 2012) – Esta passada semana, Braga teve a oportunidade de acolher o realizador português João Salaviza, no
Arena, Cerro Negro e Rafa (João Salaviza; 2009, 2012 e 2012) – Esta passada semana, Braga teve a oportunidade de acolher o realizador português João Salaviza, no 
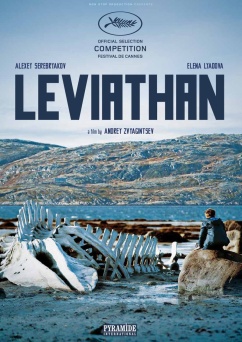 Leviathan (
Leviathan (